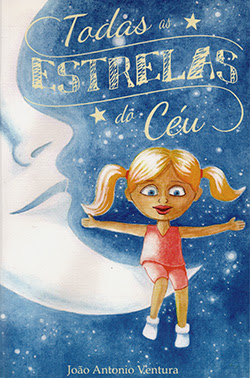Atualmente cursa Biblioteconomia pela UFCE e Letras pela UECE. Aos 17 ingressou no curso de Filosofia pela UECE, o qual cursou apenas dois anos, o suficiente para amadurecer uma mente recém-saída da escola e do colo protetor da mãe. Com a carga recebida diariamente, tanto em casa como nas Universidades e nos bares, tem o auxílio das palavras para aliviar a rotina dessa vida incoerente e traduzir inspirações do difícil, porém encantador, convívio social.
www.contradizeres.blogspot.com
Publicado na antologia Singular – O país dos invisíveis, coordenada por Adriana Kairos, da ALEPA – A Literatura dos Espaços Populares Agora
www.aliteraturapopular.blogspot.com

Tirou o boné e olhou as nuvens que cobriam o sol naquele instante. Pode sentir o vento penetrar nos cabelos e acariciá-los num gesto de ternura matinal. Pedro olhou para o chão e viu o calor que lhe invadia os calçados, mesmo assim caminhou devagar; queria perceber os detalhes do caminho que percorria todos os dias até à escola. Nunca reparava. Mas hoje… Hoje ele queria ver cada pedacinho de terra que seus sapatos gastos pisavam toda manhã. – Amarelo! Do jeito que você gosta, filho. Agora o pai vai viajar, mas volta logo. Loguinho! Dentro de um mês tô de volta e aí a gente vai praquela praia que você quer tanto ir com o Luquinhas. Cuida bem da mãe, viu? – saiu pela porta deixando-a entreaberta e sumiu pela estrada. E ele adorou aquele boné. Amarelo! Era realmente a cor preferida. E seu pai sabia disto. Mas já haviam se passado dois meses além do prazo dado e nenhuma notícia do seu Elias. Pedro não queria pensar no que podia ter acontecido. Algum contratempo talvez?! Talvez. Não queria pensar.
Parou diante de um cacto seco que invadia parte da ruazinha de terra, havia uma flor. Mirou aquela flor e reparou no quanto era bonita, pensou em arrancá-la e tirá-la daquele vazio cacto que a sustentava. Pois a flor era bonita, o cacto, deserto. No entanto, Pedro percebeu que faziam parte um do outro; o deserto era belo por causa daquela flor e ela precisava manter em sua vã beleza um vazio que a equilibrasse. Pedro olhou mais uma vez a flor, o cacto e continuou a caminhar sozinho.
O tempo parecia correr entre os grãos de areia que batiam em sua face. O sol, agora iluminando com temor, talvez por não querer perder o seu lugar na aurora e no crepúsculo, queimava o rosto moreno de Pedro e esquentava o caminho que parecia sem fim. Sem medo, pois Pedro era menino de coragem, como o pai sempre dizia, olhou para o sol como se o enfrentasse. Ficaram por alguns instantes encarando um ao outro. Com a visão meio embaçada, Pedro olhou para trás como se esperasse por alguém, mas viu apenas uma imensidão vertiginosa. Olhou para o boné pendurado na mochila, agora mais amarelo como se o sol refletisse nele, e o pegou. Analisou as linhas que o mantinham inteiro, algumas brancas, outras pretas. Voltou-se para o caminho de terra seca que ainda teria que percorrer até à escola, colocou o boné para se proteger e continuou, sozinho.
COMENTE
Me faça esse carinho